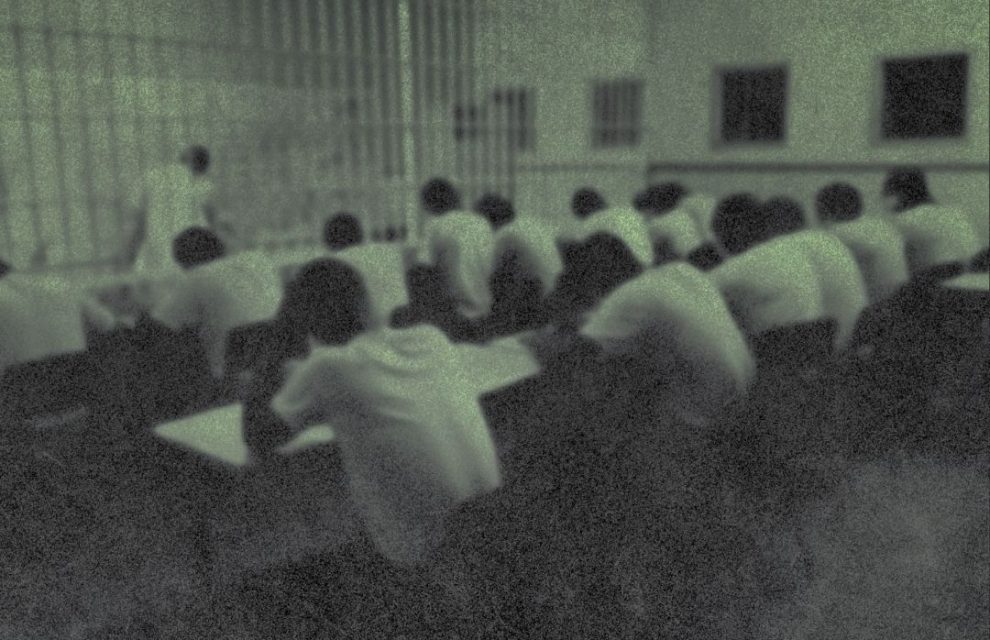Por Rick Afonso-Rocha
Publicado originalmente em Le Monde Diplomatique Brasil em 04/07/2025
O que acontece quando o ato de educar é colocado a serviço da punição? Essa é a pergunta que nos guia ao refletir sobre a chamada “educação em ambiente prisional”. Apesar do nome aparentemente neutro, essa expressão esconde uma realidade mais complexa. A chamada “escola prisional” não apenas “ensina”, mas também vigia, controla e disciplina.
Ao contrário do que se costuma imaginar, não há uma separação clara entre os objetivos pedagógicos e os objetivos penais dentro das unidades escolares que funcionam no interior das penitenciárias. Esses dois mundos, o da educação e o da punição, estão entrelaçados. A escola no cárcere não é um espaço autônomo, e sim uma engrenagem que opera junto aos mecanismos repressivos do Estado. Ela se estrutura como um híbrido entre o que o filósofo Louis Althusser chamou de aparelhos ideológicos (como as escolas e igrejas) e aparelhos repressivos (como a polícia e o sistema prisional).
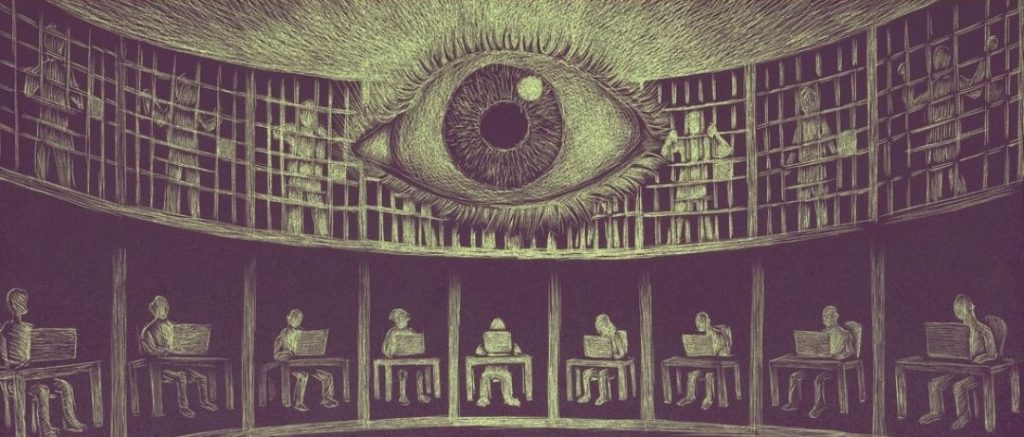
Se na escola tradicional a disciplina é uma consequência da formação, no cárcere a lógica se inverte. A educação se submete à disciplina. O aprendizado não é promovido como um caminho para a emancipação, mas como parte de um projeto de “ressocialização” que impõe comportamentos moralmente aceitáveis segundo critérios religiosos e produtivistas. A figura do preso, muitas vezes, é interpelada como alguém que precisa se redimir de um pecado.
Mais do que ensinar a ler ou escrever, a escola prisional tenta moldar o comportamento. A cidadania prometida por esse modelo é, portanto, limitada e condicional. É preciso se adequar às normas morais e disciplinares para “merecê-la”. O resultado disso é uma pedagogia marcada por discursos religiosos e morais que, longe de libertar, reforçam a culpabilização dos sujeitos e a naturalização das desigualdades.
A escola prisional é, assim, um espelho das transformações do próprio Estado, que mistura as funções de educar, vigiar e punir. Trata-se de um espaço atravessado por múltiplas violências: simbólicas, materiais e discursivas. E mais, ao oferecer uma imagem do “criminoso” como ameaça constante à ordem, ela alimenta o medo social e ajuda a justificar tanto o encarceramento em massa quanto o fechamento simbólico das cidades. Os muros das prisões se tornam, também, os muros invisíveis das cidades fragmentadas pelo medo e pela exclusão.
Por isso, é preciso olhar com atenção crítica para o que se convencionou chamar de “educação em ambiente prisional”. Longe de suavizar os efeitos da prisão, essa modalidade educativa frequentemente se torna parte integrante da engrenagem que legitima o encarceramento. Compreender a escola prisional como uma instituição atravessada por forças pedagógicas, repressivas e ideológicas é dar nome às contradições que estruturam esse espaço e, sobretudo, questionar qual é o lugar real da educação num sistema pensado para punir.
É com esse olhar que se insere este texto, como abertura para o debate mais amplo que será aprofundado no livro Pedagogia da Condenação: escola e cárcere no jogo ideológico, organizado por mim e com lançamento previsto pela Ruptura Editorial (@ruptura.editorial). A obra reúne textos de pesquisadoras, professores da educação prisional, militantes e coletivos abolicionistas que denunciam o papel da escola no cárcere como um braço ideológico-repressivo do Estado. Com contribuições de autoras e autores de diversas regiões do Brasil, a coletânea desmonta a ideia da prisão como espaço redentor por meio da educação e evidencia como a chamada “ressocialização” opera, na prática, como um dispositivo de docilização e controle. Mais do que um livro, trata-se de uma convocação crítica a quem ainda acredita na neutralidade da escola ou na possibilidade de emancipação dentro dos muros.
O ordenamento jurídico brasileiro institui, no âmbito jurídico-estatal, o conceito de escola em ambiente prisional e suas variações: escolas que atuam no sistema penitenciário, escolas de formação de penitenciários, educação no âmbito do sistema prisional ou ainda escola da unidade prisional. O objetivo declarado é afirmar que, embora situada num espaço integrado às rotinas da unidade prisional e da execução penal, com suas atividades inseridas no plano de segurança, a escola manteria sua natureza educativa. Tratar-se-ia, portanto, de uma escola localizada dentro de um presídio. E seria exatamente essa a única diferença em relação às demais escolas. Ou seja, mesmo funcionando num espaço de aplicação de penalidade e cumprimento da disciplina penal, a instituição escolar seria, supostamente, regida por valores, objetivos e missão pedagógica.
Haveria, assim, uma separação clara entre a unidade prisional e a unidade escolar. Uma responde à Justiça, à Secretaria de ressocialização e correlatas; a outra opera sob a égide da Secretaria de educação. É isso que tal designação procura fazer ver. Na prática, isso gera ingerências e conflitos burocrático-administrativos, pois a escola pertence a um órgão, mas funciona dentro de outro. São duas gestões em constante tensão, num jogo de forças. Na maioria das vezes, a gestão pedagógica, em nome de uma convivência “harmoniosa”, curva-se à gestão penal; para além das supostas intenções pedagógicas (e suas idealizações) e das boas vontades individuais dos gestores escolares. Em minha experiência como professor em uma dessas escolas, sempre que nos deparávamos com um impasse diante da rotina penal e defendíamos a necessidade de enfrentamento ou questionamento, ouvíamos da gestão pedagógica o alerta: “Estamos na casa deles”, “Aqui somos visitantes”.
Não que isso implique numa distinção radical entre educação e prisão. Ambas são aparelhos de Estado. Contudo, ainda que se adote uma concepção crítica que desfaça qualquer romantização da escola, é necessário reconhecer que a pedagogia opera pela ideologia, enquanto a disciplina penal opera pela repressão. E, sim, essa diferença é absorvida como inconciliável (efeito ideológico). Embora ambas as instituições, escola e cárcere, funcionam para pacificar os antagonismos sociais, sustentando e reproduzindo a ideologia burguesa (por isso tal incompatibilidade é uma ilusão), a escola goza de prestígio social como espaço de transformação e emancipação, resultado de sua idealização e de sua função ideológica. Entre o estudante e o detento, haveria um abismo simbólico.
E quando a instituição reúne, no mesmo corpo, a figura do estudante-detento? O conflito pedagógico-penal não é um efeito profundo, mas uma aparência. Ele só se sustenta porque a ideologia pedagógica opera como espaço de emancipação e formação crítica.
Quando professores questionam as interferências da gestão prisional em assuntos pedagógicos, estão agindo a partir da separação ideológica entre escola e cárcere. Contudo, na escola prisional, essa separação torna-se secundária. Isso não significa que ela perca eficácia simbólica, ao contrário, os documentos normativos continuam a produzir uma dissimetria entre a escola e a unidade prisional. Mas essa dissimetria é menos uma marca distintiva da escola prisional do que uma decorrência necessária do funcionamento ideológico da instituição escolar como um todo. E, como, na prática essa formação institucional é socialmente lida como unidade escolar ela precisa reproduzir a lógica da escola capitalista amplamente considerada. Veja, embora a sua dimensão repressiva não precise ser mascarada, afinal tais instituições nem estão sob o olhar do público, a dimensão ideológica ainda precisa ter certa primazia, ao menos como cinismo.
Nas escolas extramuros, a disciplina penal atravessa o corpo pedagógico de maneira dissimulada. Mesmo quando clamamos por ordem, disciplina ou punição dos alunos, somos levados a crer que esse controle é indispensável à vida em sociedade. E somos levados a crer que essa disciplina e ordem em nada tem a ver com a disciplina penal. A maioria dos educadores deposita fé na educação como força transformadora, são, assim, os principais promotores da ideologia pedagógica, seus fiadores. Por isso, aceitar que a escola é também uma instituição disciplinar, que prepara tanto para o trabalho precário e para a servidão (alunos como futuros trabalhadores) quanto para o cárcere, pela antecipação de uma rotina penal (alunos como futuros detentos), é quase impensável.
O conflito entre disciplina penal e pedagogia, na escola prisional, decorre da transposição do funcionamento ideológico da escola regular para o contexto do cárcere. Mas aqui já não há necessidade de disfarces. A disciplina não atravessa a escola prisional, ela a governa e a seduz. Não se trata de conciliação entre opostos, mas de um regime de indissociabilidade: prisão-escola, disciplina-pedagogia. Esse regime passa a ser aceito tanto pelos profissionais da educação que, levados à compreensão de que já não estão em uma instituição escolar tradicional (com sua sedução ideológica), acabam seduzidos pela lógica disciplinar, opondo-se cada vez menos às ingerências penais, até que, capturados, passam eles mesmos a clamar por repressão explícita; quanto pela sociedade, que, impulsionada sobretudo pelo funcionamento midiático, deseja abertamente a morte e a tortura dos detentos. Estes são produzidos como bodes expiatórios das mazelas e contradições capitalistas, o que faz com que muitos questionem, inclusive, a própria necessidade de se oferecer educação aos presos, vista como um “benefício” injusto, amoral, um gasto público supérfluo. O Estado, no entanto, mantém tal “benesse” não por valores civilizatórios, mas por sua função simbólica e ideológica. A escola prisional e o cárcere operam na administração do antagonismo real, isto é, fabricam inimigos, neutralizam a luta de classes, sustentam a autoridade estatal, encenam o fracasso imaginário do Estado e viabilizam a opção fascista como ecologia própria do capitalismo.
Nesse laboratório, operam-se múltiplos dispositivos de enunciação, visibilidade e controle que não apenas disciplinam, mas moldam formas-sujeito específicas. A figura do “aluno-encarcerado” não emerge apenas da sobreposição entre o educativo e o punitivo, mas da articulação entre diferentes instâncias de poder – escolares, jurídicas, religiosas – que se combinam na produção de subjetividades ajustadas ao projeto de pacificação social do Estado. Assim, a escola prisional não é um mero ponto de interseção entre educação e cárcere, mas um campo estratégico onde a pedagogia se hibridiza com o discurso jurídico-penal, o assistencialismo e, cada vez mais, com a moral religiosa. A atuação de igrejas evangélicas e católicas em unidades escolares do cárcere exemplifica esse atravessamento: cultos, missas e práticas espirituais frequentemente assumem o lugar de aulas regulares, não como exceção, mas como parte constitutiva de uma pedagogia da fé que se entrelaça com a pedagogia da obediência.
Neste cenário, as igrejas cristãs ocupam papel central na engenharia da subjetivação prisional. Mais do que agentes de evangelização, elas atuam como aparatos ideológicos fundamentais à reprodução da ordem burguesa, ao inculcar nos detentos valores de resignação, perdão e redenção pessoal. Esses valores operam como dispositivos de silenciamento da crítica social e
de deslocamento da culpa estrutural para o âmbito individual, ajustando o sujeito à lógica da punição merecida. No campo educativo, esse discurso religioso não se apresenta de forma paralela ao pedagógico, mas o infiltra e o reconfigura, convertendo o ensino formal em espaço de reafirmação da autoridade, da moralidade e da servidão voluntária. O que se desenha, portanto, é um quadro em que a escola prisional funciona como instância de captura das consciências, não apenas por meio da vigilância e da contenção, mas também por meio da conversão simbólica, ou seja, pela pedagogia da fé como tecnologia de apaziguamento dos antagonismos.
A religião, nesse contexto, se apresenta como engrenagem estratégica da pedagogia do castigo. Ao ocupar o vazio simbólico deixado pela falência programada do projeto ressocializador, as igrejas, em especial as de matriz neopentecostal, tornam-se mediadoras da ordem, desempenhando a função de correia de transmissão ideológica entre o Estado penal e o sujeito encarcerado. A promessa de salvação, articulada ao imaginário da regeneração individual, desloca o eixo da crítica social para a moralização da conduta, invertendo a lógica da responsabilização estrutural e transferindo ao próprio sujeito aprisionado o peso exclusivo de sua suposta regeneração.
Essa operação moral é funcional à manutenção do modo de produção capitalista, pois transforma a violência do Estado em cuidado espiritual e o controle penal em ato de amor. A conversão religiosa, nesse sentido, não emancipa; ela captura. O crente regenerado não se opõe ao sistema, ele se resigna a ele. A pedagogia evangélica dentro da prisão fabrica não apenas fiéis, mas sujeitos pacificados, desmobilizados, reconciliados com a própria condição subalterna. O pecado e o crime fundem-se em um mesmo significante de culpa, e a salvação, como promessa individualizada, desloca a revolta para a introspecção e o questionamento social para o arrependimento.
Ao mesmo tempo, a presença ostensiva da igreja no interior das prisões opera como espetáculo público de intervenção do “bem”. O discurso da evangelização performa uma suposta redenção possível, mascarando a estrutura de controle e silenciamento que se instala por meio da ocupação religiosa. O capelão, o pastor, o missionário, muitas vezes egressos convertidos, tornam-se agentes morais do Estado, operando uma lógica disciplinar que se fortalece justamente ao se apresentar como alternativa à punição estatal. Trata-se de uma punitividade travestida de acolhimento.
Enquanto o Estado se mostra ineficaz em sua função educadora e ressocializadora, a religião se insere como o remédio simbólico que suaviza a barbárie, sem jamais questionar a lógica da punição ou da seletividade penal. A graça não é incompatível com a pena, ela a legitima. O perdão religioso convive com a perpetuidade do castigo, oferecendo consolo em vez de subversão. E ao fazê-lo, insere-se com vigor no circuito dos aparelhos ideológicos de Estado, reforçando as estruturas que sustentam a ordem burguesa.
Nessa direção, a atuação das igrejas nos presídios atualiza, em chave contemporânea, o projeto colonial de catequese e submissão, agora voltado não mais ao indígena, mas ao delinquente, ao desviado, ao inimigo interno. É uma catequese penal, cujo objetivo não é o conhecimento libertador, mas a conversão apaziguadora. A salvação torna-se, assim, uma pedagogia da obediência, um dispositivo de domesticação afetiva que produz, no interior dos muros, sujeitos dóceis e, fora deles, a reafirmação da ordem que os encarcerou.
O cárcere, nesse arranjo, não apenas disciplina corpos pela força, mas captura almas pela fé. E é justamente essa captura espiritual que completa o ciclo da docilização. O corpo pode ser contido, mas a alma precisa acreditar. A eficácia da prisão depende, portanto, não apenas de grades, mas de crenças. O medo da punição precisa ser complementado pela esperança da salvação, formando uma engrenagem simbólica onde o castigo e o perdão operam em regime de cumplicidade. E é nesse espaço que a escola prisional se insere.
A escola prisional, ainda que formalmente ancorada na promessa de ressocialização, se inscreve profundamente na lógica de visibilidade, vigilância e disciplinamento característica do aparato prisional moderno. A chamada “ressocialização” não é uma via de emancipação, tampouco de reintegração social, mais propriamente, de reingresso à vida legal, mas uma engrenagem ideológica que legitima o Estado como suposto agente benevolente. Seu papel é menos o de reabilitar e mais o de reforçar a própria necessidade da prisão, fazendo do fracasso parte essencial da eficácia simbólica do Estado. Ele aparece como aquele que tenta ressocializar, mas não consegue e é precisamente nesse insucesso que mobiliza afetos de insegurança e medo, reforçando o punitivismo e preparando o terreno afetivo para lideranças autoritárias, de inclinação fascista (gestão medo e esperança – deimopolítica)², que prometem restaurar a ordem a partir da eliminação do “inimigo”.
É nesse entrelaçamento que a escola prisional atua. Na tensão entre a exibição do esforço estatal e a construção do inimigo irredimível. O sujeito preso é figurado como alguém incapaz de aderir ao pacto civilizatório, o que sustenta a narrativa de que a sociedade está sempre sob ameaça. A produção dessa figura, o “inimigo interno”, é peça-chave na manutenção do Estado burguês, que opera por meio do medo, da punição e do apelo à segurança, reforçando a legitimidade do aparato repressivo.
Atualmente, as prisões brasileiras oferecem três eixos principais de ressocialização: trabalho, estudo e culto cristão. Tais práticas, sob a aparência de integração social, são estruturadas como mecanismos de conformação dos corpos e subjetividades à moralidade dominante. O trabalho, quase sempre manual, precarizado e não especializado, serve à naturalização da exploração capitalista, ao mesmo tempo em que encena a regeneração moral pela labuta (“o trabalho dignifica o homem”). O estudo, por sua vez, é capturado por um currículo e uma ideologia pedagógica que privilegia valores como obediência, passividade e respeito à autoridade, ou seja, ensina a servir. O culto cristão, sobretudo em sua vertente evangélica institucionalizada, com destaque para a presença da Igreja Universal do Reino de Deus, atua como tecnologia espiritual de controle, que transfere a responsabilidade pelo “crime” ao indivíduo (e não à estrutura social), ao passo que oculta as determinações históricas da exclusão.
Essas práticas não apenas falham em promover uma reintegração efetiva como revelam a verdadeira natureza da formação institucional na prisão. Não se trata de formar sujeitos autônomos ou críticos, mas de conformá-los aos imperativos da ordem. O trabalho, o estudo e a religião, nesse contexto, compõem uma pedagogia moral voltada ao disciplinamento da alma, ao controle das condutas e à captura das subjetividades.
Como professor em uma escola prisional, vivenciei esse atravessamento de forma sistemática. A fusão entre o discurso educativo e o religioso era explícita. Em diversas ocasiões, fui instado a suspender aulas para que as alunas participassem de leituras bíblicas promovidas pela Pastoral Carcerária, realizadas em uma das salas da própria escola, temporariamente convertida em templo. Não raramente, nós, professores, éramos “convidados” a acompanhar cultos e missas, deslocando o sentido pedagógico para um campo de doutrinação espiritual, sem espaço para crítica ou dissenso.
Ao recusar esse deslocamento da função pedagógica para a função religiosa, manifestei meu descontentamento em reuniões, passando a ouvir críticas de colegas que enxergavam na religião uma estratégia mais eficaz de ressocialização do que o ensino formal. Em uma dessas ocasiões, uma professora me interpelou diretamente: “Professor, não entendo o porquê o senhor se incomoda tanto com as alunas que estão buscando Deus, pelo menos elas estão tentando.”
Essa formulação, embora aparentemente espontânea, revela a força de uma formação discursiva religiosa que se impõe no cotidiano escolar-prisional, naturalizando a ideia de que a busca por “deus” é não apenas legítima, mas desejável como caminho para a ressocialização. A interrogação (“não entendo o porquê…”) faz ver como a resistência à fusão entre religião e pedagogia é percebida como inadequada. Esse tipo de interpelação transforma o professor resistente em um sujeito deslocado, que “não compreende” o “verdadeiro” papel da escola prisional: não necessariamente o de formar intelectualmente, mas o de inculcar valores morais e espirituais.
Esse atravessamento se expressava também no discurso da gestão escolar. Em uma reunião, um dos membros da equipe diretiva tentou me convencer de que, no ambiente prisional, a função da escola não era necessariamente a formação intelectual e crítica, mas o apaziguamento dos ânimos e a inculcação de valores morais. Argumentava que, por eu ser “novo no sistema prisional”, ainda não compreendia a dinâmica daquele espaço, onde a religião “acalma as meninas” e facilita a sociabilidade.
A pedagogia da escola prisional é, antes de tudo, uma pedagogia do conformismo, da expiação e da obediência ou, em termos mais duros, da docilização dos corpos e da depuração moral das almas. A prisão não realiza a prometida ressocialização, mas sim a dessocialização. Ela rompe os laços do sujeito com o mundo social e o reinscreve num universo regido pela lógica da punição, da vigilância e do silenciamento. A prisão não reintegra; ela mortifica. E a escola, como parte dessa engrenagem, participa ativamente da produção de subjetividades marcadas pela irredutibilidade ao convívio social pleno.

É justamente nesse ponto que a ficção civilizatória da ressocialização se revela não como um equívoco, mas como um operador estratégico da fabricação do medo. O fracasso do projeto pedagógico carcerário não é um efeito colateral, mas sua própria razão de ser. Ele precisa fracassar para manter viva a figura do inimigo. A pedagogia da ressocialização, em sua vertente institucional, religiosa e moralizante, não emancipa; reproduz o medo. A figura do preso irrecuperável se torna, assim, o cimento afetivo que sustenta a autoridade estatal e, com ela, a violência estrutural do capitalismo. Esse inimigo não é externo, mas íntimo. Mora ao lado, se parece conosco, carrega a cor da pobreza, do desvio, da desordem. E é por isso mesmo que precisa ser constantemente vigiado, contido e, se possível, esquecido.
A escola prisional se estrutura como um espaço de encenação da formação institucional do sujeito que falha. Falha porque deve falhar. Ao encenar a tentativa e exibir o fracasso, alimenta a crença de que certos corpos são refratários à norma, reforçando a noção de que o Estado, apesar de seus esforços, é impotente diante da barbárie. E é justamente essa impotência performada que legitima a força. Assim, o discurso pedagógico da ressocialização opera como uma pedagogia da condenação. Aquilo que deveria libertar, disciplina; aquilo que deveria incluir, exclui; aquilo que deveria ensinar, moraliza.
Ao mesmo tempo em que a escola prisional reforça a imagem do Estado como agente que oferece oportunidades de ressocialização, ela também atua como um dispositivo que evidencia a falência desse mesmo projeto, produzindo sujeitos marcados pela irredutibilidade ao convívio social pleno. É justamente nesse ponto que a ressocialização e a construção da figura do inimigo se entrelaçam. O fracasso programado da ressocialização não apenas confirma a suposta incapacidade dos sujeitos de se reintegrarem, mas serve, sobretudo, para produzir e sustentar a
imagem de um inimigo interno permanente, cuja existência justifica e perpetua as instituições punitivas. A função da escola prisional, nesse sentido, ultrapassa a promessa de reabilitação para se tornar um elemento central na fabricação social da ameaça, operando a partir da exposição da falência e da indesejabilidade do preso, cuja figura é estrategicamente incorporada ao imaginário coletivo como a personificação do risco e da insegurança.
Ao criar a figura do “inimigo”, o Estado burguês não apenas cria as condições de eternização imaginária da ordem social mercantil, mas também perpetua uma estrutura de dominação que se reflete na esfera prisional, tornando o controle social e a exploração das subjetividades uma prática legítima, aceita e desejada. Assim, a prisão fabrica uma “inimigabilidade” funcional ao modo de produção capitalista, onde o discurso da criminalidade é mobilizado para eternizar a autoridade do Estado, reforçando suas hierarquias e o contrato social que, em sua base, está marcado pela desigualdade. O “lobo que devemos temer”, como é retratado pela ideologia do Estado, não é um inimigo externo, mas um de nós. Este inimigo, cuja figura carrega a reminiscência do “estado fictício da natureza” e é amplificado pela criminalização de certos corpos e sujeitos, serve para renovar constantemente a legitimidade do controle estatal.
Desse modo, a escola prisional não apenas encena a tentativa estatal de reintegração, mas sobretudo evidencia o fracasso dessa empreitada. O paradoxo é constitutivo. Enquanto o Estado se apresenta como aquele que oferece meios para a ressocialização, seja pelo trabalho, pelo estudo ou pela garantia da assistência religiosa, é justamente a ineficácia dessas práticas que alimenta a percepção de que determinados sujeitos são irrecuperáveis, reforçando a ideia de um risco social permanente. A frustração da ressocialização não é, portanto, uma falha do sistema, mas um mecanismo funcional que reafirma a indispensabilidade do Estado enquanto garantidor da ordem e da segurança. Ao fazer ver sua própria impotência, o Estado legitima a necessidade de sua força, criando as condições afetivas e políticas para a aceitação da vigilância, da punição e do controle como respostas inevitáveis frente à persistente figura do inimigo social.
Dessa forma, a escola prisional é um dispositivo de gestão da vida precarizada, em que o neoliberalismo, como racionalidade política totalizante, subverte o próprio sentido da educação pública. No projeto neoliberal, a escola deixa de ser um direito e torna-se um investimento individual em capital humano; o saber é reduzido a competência e o aluno, transformado em empreendedor de si mesmo. Essa lógica é reconfigurada no cárcere com uma perversidade ainda maior. O preso-estudante é convocado a responsabilizar-se por sua “ressocialização” por meio do esforço escolar, enquanto o Estado se desresponsabiliza por qualquer transformação estrutural. A educação torna-se um simulacro de inclusão, funcionando como moeda moral para validar a violência estatal. Na escola prisional, esse ajuste assume a forma da ressocialização produtiva, em que o estudo, muitas vezes vinculado à remição de pena, opera como recompensa por boa conduta, reforçando a lógica meritocrática. Assim, o espaço escolar não se opõe ao castigo, mas o complementa. Torna-se uma via paralela de disciplinamento e captura, em que se dilui qualquer horizonte de ruptura. Sob a aparência do ensino, o que se realiza é a interiorização da culpa e a adaptação à punição como modo de existência aceitável.
A escola prisional é, ao mesmo tempo, exceção e modelo. Exceção porque se organiza em ambiente penal, regida por rotinas e dispositivos de vigilância abertamente punitivos, sem a necessidade de simular autonomia pedagógica ou liberdade crítica. Modelo porque ensaia, sem mediações simbólicas, aquilo que tende a se consolidar como o destino das escolas extramuros. Isto é, o esvaziamento da dimensão pública da educação e sua transformação em aparelho de gestão da vida sob o signo da vigilância, do desempenho e da obediência. A escola prisional, em sua materialidade, antecipa o que se desenha como horizonte no presente. Uma escola que não precisa mais convencer, apenas ajustar; que não precisa criar a ilusão de formar, apenas monitorar; que não precisa justificar-se como produtora de educação, apenas administra. No interior desse arranjo, a escola é somente uma plataforma de controle sobre corpos precarizados, racializados, criminalizados.
A escola prisional representa o ápice de um processo histórico no qual a educação se conforma cada vez mais à lógica penal, não apenas como aparato de contenção, mas como vetor de subjetivação adaptado às necessidades do Estado capitalista em sua fase punitiva. A indissociabilidade entre pedagogia e punição não é, pois, uma anomalia do sistema prisional, mas a expressão explícita daquilo que nas escolas extramuros permanece encoberto: a educação como tecnologia de disciplinamento, normalização e pacificação dos antagonismos. Nesse sentido, a escola no cárcere desvela a matriz repressiva do aparelho escolar, permitindo ver, sem filtros ideológicos, que o objetivo último da educação pública não é a emancipação, mas a gestão das desigualdades, a formação de sujeitos dóceis e funcionais à ordem vigente. O estudante-detento, nesse contexto, não é uma exceção que desafia o modelo pedagógico, mas a sua figura-limite, o espelho invertido que revela o destino disciplinar de todo projeto educacional sob o capital.
A separação entre educar e punir, tão cara às democracias liberais e às teorias pedagógicas reformistas, mostra-se, aqui, como operação ideológica que vela a continuidade entre escola e prisão, entre avaliação e sentença, entre currículo e pena. A pedagogia prisional, longe de ser uma distorção da prática educativa, é a sua realização integral sob o império da forma-Estado, um laboratório de gestão da obediência e de simulação da reintegração social, cujo real objetivo é a reprodução da ordem e da autoridade.
A escola prisional revela-se como o futuro-presente da educação neoliberal. Um espaço onde a docilização é assumida como função explícita, onde a moralidade se impõe como currículo, onde o fracasso é esperado e necessário para justificar o controle. Trata-se de uma pedagogia do abatimento. Não se ensina, se rastreia; não se forma, se seleciona; não se liberta, se vigia. A racionalidade penal se infiltra na linguagem da educação como tecnologia de prevenção e contenção. A escola torna-se a antessala da prisão e da servidão uberizada.
1 Sobre o conceito de deimopolítica veja SILVA, Ruan Henrique Gomes; AFONSO-ROCHA, Rick. Perigo cor-de-rosa: deimopolítica na ditadura cis-hétero-militar brasileira. Revista Periódicus, v. 3, n. 20, p. 91-114, 2024.
Rick Afonso-Rocha é doutor em Letras: Linguagens e Representações (UESC), professor da rede pública de educação do Estado de Pernambuco, advogado, anarquista e pesquisador independente