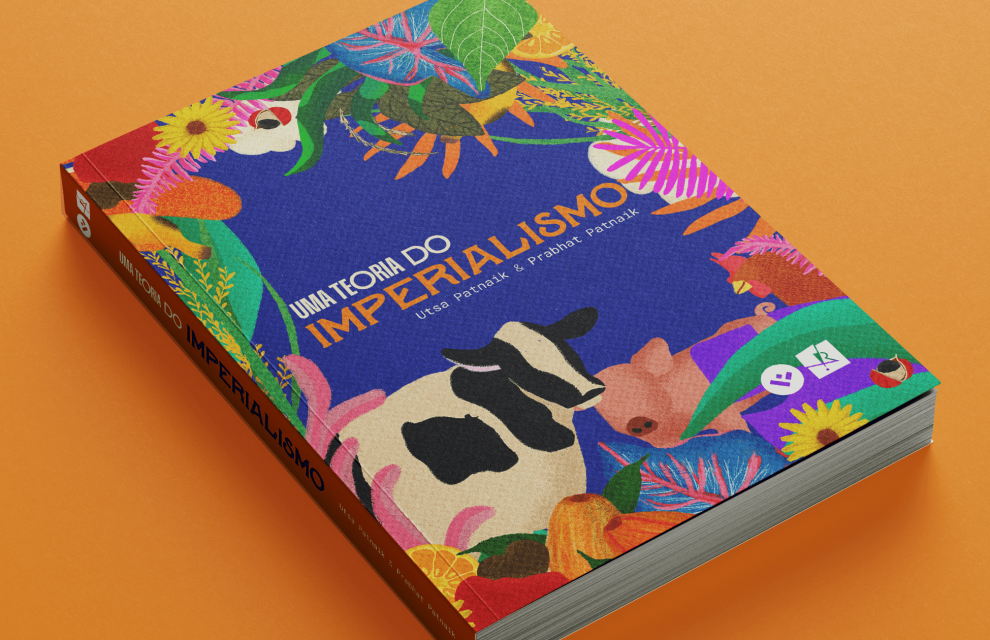Por Juliane Furno
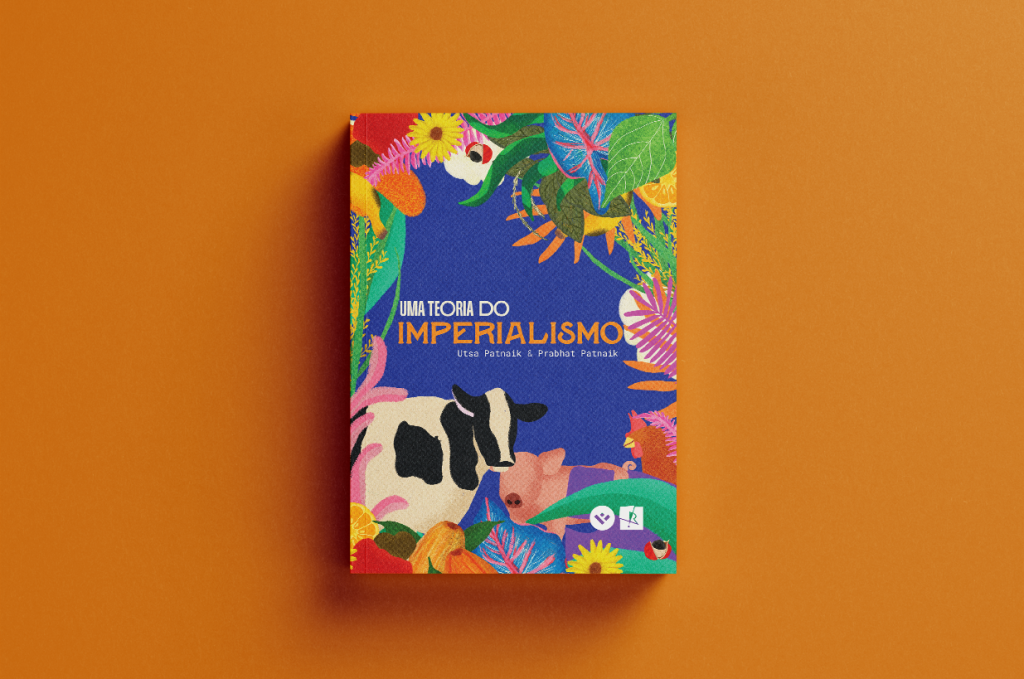
Uma Teoria do Imperialismo é de um trabalho de grande envergadura e ousadia teórica. Desconheço outro trabalho que, partindo dos expoentes da teoria clássica do imperialismo e dentro do campo marxista, tenha logrado uma interpretação tão original sobre a atualidade do imperialismo contemporâneo e seus renovados instrumentos, em especial econômicos, de manutenção das transferências internacionais de valor.
Prabhat Patnaik já havia causado certo alvoroço na intelectualidade crítica internacional quando, em um artigo publicado em 1990, perguntava “o que aconteceu com o imperialismo?”.
A questão, no entanto, era retórica. Sua contundente argumentação mirava na esquerda ocidental, pelo abandono completo de uma categoria que outrora havia sido fundamental para a compreensão do capitalismo e suas transformações: o imperialismo. Acusava Patnaik, na época, que o apagamento e a substituição dessa categoria por conceitos tais como “globalização”, “mundialização” e outras similares, não dizia respeito somente uma questão semântica, senão que atestava a vitória inconteste do próprio imperialismo, que melhor se desenvolve quanto mais tem seus instrumentos e sua lógica de funcionamento ocultados.
Dessa forma, Uma Teoria do Imperialismo, mais do que um excelente trabalho teórico com contornos empíricos para a compreensão atual dos mecanismos de continuidade e adaptação do imperialismo, é uma ferramenta de luta na “batalha das ideias”. Retomar a centralidade da categoria imperialismo, dar “nome aos bois”, é fundamental para a compreensão política, econômica e, sobretudo, geopolítica das disputas atuais, especialmente em momentos de tensões internacionais que, nada mais são, que expressões da vivacidade do imperialismo e/ou do seu desgaste, uma vez que os impérios quando atacados reagem na ofensiva, acentuando seus instrumentos de dominação. Portanto, os conflitos envolvendo o avanço da OTAN nas áreas da antiga URSS; as ações ainda de caráter colonial-bélica envolvendo o Estado de Israel; as políticas protecionistas e de guerra comercial contra a China; o patrocínio a golpes – seja de tipo clássico ou nas novas modalidade; e as sucessivas sanções e embargos econômicos, das quais Cuba, Venezuela, Irã e Rússia são os expoentes principais, só podem ser entendidas, na sua essência, dentro do retorno e aprofundamento da teoria do imperialismo, para a qual o casal Patnaik é parte fundamental.
O livro em questão, em que pese seja uma leitura densa e difícil em muitas passagens, tem uma mensagem clara e, muitas vezes, reafirmada pelos autores, a saber: o capitalismo, no seu processo contínuo de acumulação, demanda permanentemente matérias primas que são tanto componentes dos chamados “bens-salários” dos trabalhadores – ou seja, parte do custo de reprodução dos trabalhadores – quanto são componentes fundamentais para a atividade industrial.
No entanto, como há uma demanda permanente e majorada ao longo do tempo por esses produtos e uma oferta que tende a ser fixa, (já que o autor parte da hipótese de que as terras agricultáveis já estão quase operando em plena capacidade produtiva extensiva) a tendência do preço de oferta desses produtos primários é aumentar. Pois bem, caso eles sigam aumentando de valor (preço) isso irá acarretar uma desestabilização do preço do dinheiro nesses países de capitalismo central, onde o processo de acumulação é mais acelerado. A estabilidade do preço do dinheiro é um elemento fundamental, especialmente pelo momento atual de predomínio da lógica financeira sob a atividade produtiva. É necessário que ele se mantenha estável para que o próprio dinheiro, como reserva de valor, não seja substituível por alguma mercadoria que possa cumprir essa função e que tenha seu preço menos volátil, como o ouro, por exemplo.
Então, esse é o argumento central, o diagnóstico do qual parte os autores. Estabelecendo conexão entre a teoria clássica e a contemporânea do imperialismo, os Patniak irão lembrar que no período colonial ou de domínio do imperialismo inglês sob a política de “nova partilha do mundo” da qual falava Lenin, também havia essa necessidade. No processo de acumulação primitiva ou originária de capitais e nos primeiros intentos de formação capitalista, as mercadorias exportadas pela periferia, colonial ou não, cumpriram um papel decisivo, potencializando o desenvolvimento industrial do centro e liberando mão-de-obra nesses países para que se dedicassem às atividades fabris.
Após um período de interregno, que os autores denominam como período “dirigista”, selado pelos anos de dominação da perspectiva Keynesiana de orientação da política econômica e em que vigorou um sistema monetário com restrições a volatilidade cambial e a liberdade dos fluxos internacionais, o capitalismo imperialista retoma sua vocação de dependência mais acentuada dos produtos exportados pela periferia e retoma seus instrumentos de atuação sobre seu preço de oferta.
Dado o diagnóstico principal, os autores explicitam a sua questão de pesquisa: “De que maneira o sistema capitalista contemporâneo manteve as características estruturais mais fundamentais do período inicial do imperialismo, mesmo com a ausência de um controle político direto?” Ou seja, na ausência de um sistema tributário colonial e de instrumentos claros de dominação política das metrópoles sobre as colônias, como garantir o controle sobre a formação de preços que estão submetidos a uma tendência permanente de apreciação?
Ao longo do texto são esboçadas quatro possibilidades para a garantia de que não haja apreciação do preço de oferta e, portanto, não haja comprometimento do valor do dinheiro nos centros imperialistas. Duas delas são descartadas: a primeira seria mediante um processo de “inflação de lucros” através da mudança nos preços relativos via preços das moedas nacionais frente ao dólar. Ou seja, caso houvesse desvalorização contínua da taxa de câmbio dos países periférico, em benefício da apreciação dólar, o valor nominal das matérias primas seguiria o mesmo, mas cairia em termos reais. O segundo argumento descartado seria de que com a compressão salarial dos trabalhadores do centro capitalista, arrochando seu poder de compra, haveria redução da demanda e, portanto, reequilíbrio do preço de oferta em um patamar mais baixo. Ambas hipóteses não são sustentáveis politicamente e/ou não podem manter-se ao longo do tempo.
Haveria, no entanto, uma outra possibilidade que, diga-se de passagem, o próprio centro capitalista enfrentou no seu processo de desenvolvimento, com relação aos custos unitários da força de trabalho. Vejamos: com o desenvolvimento do capitalismo, confirmou-se a tendência aventada por Marx de proletarização dos trabalhadores e de destruição das formas pré-capitalistas internas de produção. Dessa forma, com o aumento da produção e com o aumento do emprego, os custos salariais se elevaram, já que em sociedades de livre mercado, o salário também é um preço determinado pela oferta e pela procura. Portanto, se não havia mais trabalhadores procurando emprego e, por outro lado, mantinha-se o processo de acumulação, os salários tendiam subir. A fórmula encontrada foi investir no aumento da produtividade do trabalho, garantindo a manutenção da taxa de lucro pelo aumento de exemplares unitários de mais mercadorias produzidas pelo mesmo tempo de trabalho médio socialmente necessário. Além de ganhar no volume, o investimento em capital constante também cumpria a função de ser poupador de mão-de-obra no futuro.
Dessa feita, para os autores, poderia haver formas de incremento da terra, para possibilitar um aumento na produção por unidade de terra natural, mediamente cultivo múltiplo, que normalmente requer irrigação, e do aumento da produtividade da área bruta semeada, “que requer disponibilidade de água adequada, melhores práticas agrícolas, alto rendimento, variações de semente, sondagens mais pesadas de uso de fertilizantes e outras medidas”. No entanto, todas essas ações têm em comum o fato de demandarem o Estado e as finanças públicas, seja nos serviços de pesquisa e desenvolvimento, seja na disponibilidade de crédito subsidiado para a aplicação dessas medidas inovativas, além da ampliação da política de reforma agrária para a redução do custo do arrendamento.
O paradoxal desse argumento é que frente aos intentos do capital financeiro e da lógica neoliberal, especialmente sob a disciplina fiscal dos Estado periféricos, essa possibilidade esbarra nas amarras criadas pela consigna das “finanças sólidas”. Dessa forma, as pressões internas e externas para disciplina dos gastos públicos e da obtenção de superávits primários, somado as mesmas pressões por mecanismos de subsídios e concessões ao grande capital, inviabilizam o Estado de cumprir esse papel, o que poderia apaziguar a tendência ao aumento do preço de oferta.
A solução encontrada para a redução do preço de oferta das matérias primas e, portanto, para a não ameaça do valor do dinheiro nos países imperialista foi a deflação da renda dos trabalhadores da periferia e esse é, para os autores, o mecanismo de funcionamento do imperialismo atualmente, visando a drenagem da renda da periferia para o centro. Se há uma tendência de aumento da demanda por essas matérias primas e rigidez na estrutura de oferta, e se não é possível arrochar a demanda dos trabalhadores nos países centrais, a fórmula é impor uma redução do consumo desses bens dentro da própria periferia. A “deflação da renda” que recaí sob a população é operacionalizada por meio de uma redução do seu poder de compra, de modo que, “(…) de uma produção relativamente imutável da massa de terra tropical fixa, eles sejam obrigados a cada vez mais liberar bens para a metrópole.”
Segundos os autores, isso ocorre de forma direta, quando os mesmos bens que são retirados do mercado da massa local são, então, absorvidos pela metrópole, ou de forma indireta, quando aquela terra que outrora era destinada à produção de bens para os quais a demanda da massa trabalhadora diminuiu devida à deflação da renda, agora é desviada para a produção de outros bens, aqueles demandados pela metrópole. “Em qualquer um dos casos, afasta-se qualquer ameaça ao valor do dinheiro na metrópole, e os suprimentos são obtidos da massa de terra tropical para atender à demanda metropolitana, sem o problema de aumentar o preço de fornecimento.”
Para conceder mais concretude a essa argumentação, que é central na tese dos autores, há um rico capítulo destinado a um estudo de caso sobre crescimento da produção de matérias primas na Índia que são exportadas, versus a pobreza alimentar e nutricional vivenciada pela mesma população.
Permitam-se um exemplo, já que esse é um prefácio à edição brasileira. No Brasil ocorre fenômeno parecido: ao mesmo tempo em que se orgulha de ser o “celeiro do mundo”, o Brasil convive com a fome e com grave insegurança alimentar, o que – na pandemia – chegou a atingir metade da população brasileira, ao mesmo tempo em que chegamos a ser os maiores exportadores de carne do mundo.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tem denunciado, constantemente, a redução das áreas de cultivo de produtos alimentares concomitantemente ao avanço da área plantada para commodities, que são majoritariamente exportadas. Buscando dados do Censo Agropecuário temos que entre 1999 e 2022 as áreas plantadas de soja, milho e cana-de-açucar aumentaram 137,39%, enquanto aquelas destinadas a produção de alimentos para a cesta básica, como arroz e feijão, experimentação redução de 48,69%.
Esse é, para os autores, o mecanismo de funcionamento do imperialismo nesse atual estágio de acumulação capitalista: a manutenção do preço do dinheiro, definido pelo controle do preço de um componente essencial da produção do centro e que não é possível ser produzido ou permanentemente produzido no centro.
A forma desse mecanismo de controle, que dispensa – pelo menos momentaneamente o uso de ocupações territoriais e a interferência da força militar – é mediante políticas de deflação da renda dos trabalhadores das periferias e de avanço da produção vocalizada pelo agronegócio exportador. Os instrumentos para isso vão desde a manutenção de um grande e permanente exercício industrial de reserva, passando pelo aprofundamento da lógica desindustrializante e, sobretudo, guiado pela lógica de austeridade, que maneja a política funcional para redistribuir renda aos poderosos capitalista em detrimento da lógica distributiva.
Juliane Furno é economista, doutora em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professora adjunta da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É também assessora especial da Presidência do BNDES, pesquisadora do Instituto Tricontinental e Militante do Movimento Brasil Popular.
Ficou interessado sobre o tema? Adquira o livro: https://www.rupturaeditorial.com/produto/a-teoria-do-imperialismo/